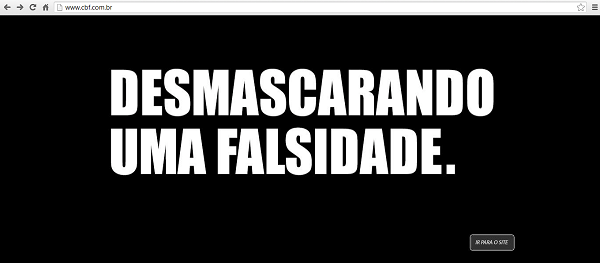O vôlei não pode ser refém do patrocínio
Erich Beting
Há algumas semanas abordei aqui o quanto o vôlei estava dependente do dinheiro. Desempenho de ponta só nas equipes com muita verba disponível para gastar, às vezes até a fundo perdido. O problema é que esse modelo, no médio prazo, não se sustenta. Prova disso foi a saída da Medley do time de Campinas após três anos (leia os detalhes aqui).
Na história do marketing esportivo brasileiro, o vôlei teve um papel importantíssimo para turbinar os ganhos de toda a indústria. Foi por pressão de Carlos Arthur Nuzman, então presidente da CBV, que no início dos anos 80 o governo brasileiro permitiu a publicidade na camisa das equipes que disputavam esportes coletivos.
À época, isso teve impacto direto no vôlei. Empresas viram no esporte que começava a se profissionalizar a chance de fazer uma grande estratégia de marketing. Os atletas, por sua vez, conseguiram passar a se dedicar apenas para o esporte, quando até cinco anos antes, dividiam sua vida entre estudos, trabalho e treinos. Foi o salto que precisava para o país passar a ter competitividade mundial, tanto que em 1984 conquistou a prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles.
Só que o modelo que consagrou o início do profissionalismo do vôlei no Brasil é ainda o que clubes, federações e confederações acreditam ser o mais bem sucedido para o esporte. Há ainda a crença de que uma empresa ''envelopar'' um time vai trazer resultados diretos para a marca.
O problema é que o mundo mudou só um pouco nos últimos 30 anos. O vôlei raramente está na TV aberta, como era antes. Além disso, as opções de entretenimento da população é variadíssima. Investir hoje num time de vôlei custa caro para um retorno relativamente baixo. Isso, claro, se apenas uma empresa tiver de pagar toda a conta.
O tamanho alcançado pelo vôlei hoje no Brasil é muito maior do que uma empresa apenas pode suportar. Investir no relacionamento com o torcedor, buscar a prefeitura local para trabalhar a divulgação do time na cidade, criar projetos que não dependam de apenas uma empresa e, muito menos, vender a ela a exposição de marca como maior benefício são algumas das atitudes necessárias a serem tomadas pelas equipes de vôlei no Brasil.
Outro aspecto que hoje parece sub-aproveitado é o potencial do ídolo. Jogadores carismáticos e com enorme apelo ao público estão em atuação no Brasil. O que os clubes preparam aos torcedores com esses atletas? Como as empresas podem usá-los para obter retorno que vai muito além de batizar o time?
A Medley tinha tudo isso em Campinas, mas o projeto acabou assim que o interesse da empresa em patrocinar o vôlei acabou. É normal o patrocínio ter um fim. Não é normal o esporte não se preparar para quando esse fim chegar. Ainda mais o vôlei, que tem esse histórico de entradas e saídas constantes.
Enquanto seguir refém do patrocínio, o vôlei seguirá numa meia-profissionalização. E seguirá tornando o esporte cada vez mais disponível só para quem tem muito dinheiro. Nesse caminho, porém, enfrentará um grande concorrente, que é o futebol. O primeiro passo para mudar está num questionamento primordial, que foi o ponto de partida para uma nova mentalidade no basquete brasileiro.
Qual é de fato o papel da CBV na gestão da Superliga? Só a partir do momento que essa resposta ficar clara para clubes, atletas e a própria confederação é que o entra-e-sai de marcas poderá mudar.