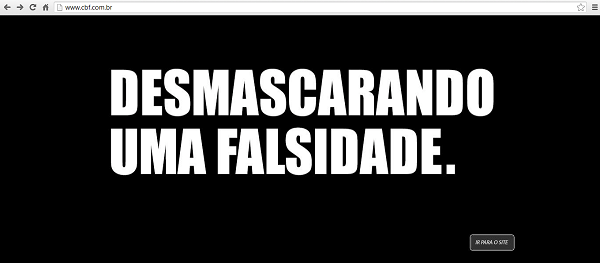O limite da interferência da TV no esporte
Erich Beting
A TV é o melhor meio para propagar e divulgar um esporte. Detentora de verba e (ainda) da maior fatia de audiência, o esporte se tornou um colosso mundial a partir da propagação de suas competições via televisão. A junção de imagem e som em tempo real para o telespectador transportou o evento esportivo do local onde ele acontecia para dentro da casa das pessoas.
Mas, desde o princípio, essa relação entre TV e esporte traz exemplos que demonstram ainda existir uma falta de visão de gestores (tanto na mídia quanto no esporte) de que há um limite na interferência de um sobre o outro.
O mais recente foi neste final de semana, durante os treinos de classificação para o GP da Austrália de Fórmula 1. Por conta da televisão, há cerca de três anos a Austrália mudou o horário da prova. Em vez da tradicional largada às 14h locais, mudou-se para as 17h, com o objetivo de atender à demanda da televisão europeia, que paga a maior parte da conta dos direitos de TV da F-1.
Neste fim de semana, um manjada chuva de verão caiu em Melbourne e forçou o adiamento, para o mesmo dia da prova, da realização do treino de definição do grid de largada. Com uma reza brava para que a meteorologia ajudasse no domingo, conseguiu-se fazer o treino e a prova sem maiores problemas.
A mudança de horário para atender às necessidades da TV colocou em risco pilotos e a disputa na Austrália. O dilema não é novidade e, muito menos, parece estar perto de uma solução. Nos Estados Unidos, diversas vezes, os atletas reclamam da maratona de jogos e viagens para cumprir a grade de programação da TV. No Brasil, temos horários abusivos para alguns esportes por conta dessa “ditadura” da televisão.
O problema é que, na maior parte das vezes, o esporte não está preparado suficientemente para peitar a televisão. Da mesma forma que ajuda a divulgar e promover um evento esportivo, a TV também é refém dele, necessitando do bom conteúdo que uma competição esportiva pode proporcionar para obter receita, audiência e, por vezes, status.
O limite para a interferência da TV no esporte é o limite de preservação das condições mais justas e seguras para a realização de um evento. Colocar sob risco os atletas apenas para atender às necessidades da televisão, além de ser questionável do ponto de vista humano, é contraproducente até para o próprio evento. Afinal, um jogo às 16h no verão brasileiro faz com que o atleta não consiga ter o mesmo rendimento daquele disputado sob temperatura mais amena.
O problema é que é preciso que a indústria do esporte esteja madura o suficiente para poder peitar o jogo da televisão. No caso da F-1, com uma Europa em crise e com investidores mais espalhados pelo mundo, a grana da TV continua a ser importante. Quando o esporte se preparar para depender menos da TV, as exigências se tornarão cada vez menores. Para isso acontecer, porém, é preciso um longo caminho a ser percorrido. Especialmente na profissionalização do dono do talento, que é o atleta.